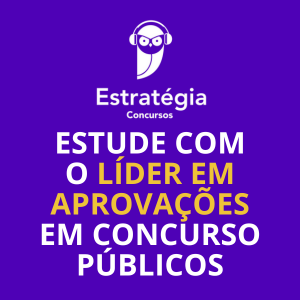Mapeamento do Pacific Institute registra um padrão de ataques por forças israelenses e colonos a poços, redes e estações de tratamento na Cisjordânia e em Gaza — crise humanitária tende a ecoar na ONU e acender alertas em capitais europeias sobre violações a direitos básicos como o acesso à água.
Um novo levantamento internacional expõe o que organizações humanitárias e especialistas em recursos hídricos vêm alertando há anos: a água na Palestina tem sido alvo sistemático de violência. Entre 2020 e meados de 2025, mais de 250 ataques — atribuídos a forças israelenses e a colonos — atingiram infraestrutura crítica de abastecimento e saneamento, da sabotagem de dutos e bombas a bombardeios que destruíram instalações inteiras. A consolidação desses dados, feita pelo Pacific Institute em sua cronologia global de conflitos hídricos, foi divulgada por veículos internacionais nesta semana, com relatos que incluem tiros contra civis enquanto coletavam água e a destruição de projetos financiados pela União Europeia. O quadro reforça a dimensão humanitária da guerra e alimenta discussões sobre responsabilidade internacional e direitos humanos.
A fotografia não se limita à contabilidade. Em Gaza, uma combinação de bombardeios, bloqueios energéticos e colapso de estações de dessalinização levou a níveis extremos de escassez: apenas “um em cada dez” habitantes teria acesso a água potável, segundo alerta recente do Unicef, com serviços de bombeamento e tratamento operando de maneira residual por falta de energia e combustível. Em avaliações cruzadas de agências e think tanks, de 57% a 80% dos ativos de água e esgoto foram destruídos ou danificados desde outubro de 2023 — poços, redes e estações de dessalinização, além de bombeamentos e laboratórios de qualidade da água.
Na Cisjordânia ocupada, as ofensivas têm outro rosto, mas a mesma consequência: comunidades inteiras relatam ataques e vandalismo cometidos por colonos contra nascentes, reservatórios e tubulações — acompanhados, não raro, de operações militares que danificam redes e infraestruturas críticas de saneamento. Relatórios rotineiros da ONU documentam episódios de sabotagem, demolições e cortes no acesso à água no norte da Cisjordânia e em áreas rurais, com impactos diretos em saúde pública e meios de vida. A escalada de 2025, inclusive, veio acompanhada de um recorde histórico de ataques de colonos em outubro, segundo o OCHA, o que corrobora a tendência de deterioração no terreno.
O dossiê do Pacific Institute sugere que 2024 foi um ano-pico para a violência hídrica no mundo — e que o conflito Israel-Palestina respondeu por uma parcela desproporcional desse aumento. Na amostra mais recente, o instituto registrou 420 incidentes globais no ano passado, com a primeira metade de 2025 mantendo ritmo elevado. Analistas apontam a mudança de paradigma: infraestrutura hídrica transformada em alvo de guerra e instrumento de pressão sobre populações civis. A lógica, condenada por relatores especiais das Nações Unidas, contraria princípios básicos do direito internacional humanitário, que protegem bens indispensáveis à sobrevivência.
Nos fatos, nomes e lugares, as histórias se repetem com variações. Na região de Ein Samia, próxima a Ramallah, agricultores relataram a destruição reiterada de tubulações e bombas por grupos de colonos, cortando o fornecimento a dezenas de vilarejos e impondo longas caminhadas a mulheres e crianças em busca de água. Em outras localidades, poços comunitários foram contaminados ou lacrados; bombas e painéis solares foram depredados; e a reposição de equipamentos enfrenta a teia de restrições típicas da ocupação, que dificulta aprovações e a simples chegada de materiais. A reportagem da Reuters no início de setembro detalhou a seca literal nas torneiras palestinas — um retrato que conversa com alertas da ONU e de organizações locais sobre a estratégia de expulsão lenta e por exaustão.
No litoral sitiado de Gaza, a equação é também energética. Sem eletricidade estável, dessalinizar água do mar vira uma promessa inviável — ou alvo militar. Uma planta de dessalinização apoiada por União Europeia e Unicef, desenhada para ampliar o fornecimento de água segura, foi interrompida por danos em instalações e linhas; cortes deliberados de energia por Israel, denunciados pela Anistia Internacional como cruéis e ilegais, paralisaram outros sistemas e pressionaram poços e estações de bombeamento a operar no limite. A consequência humanitária é óbvia: menos água, mais doenças, mais insegurança alimentar.
Em termos de governança global, o tema tem tudo para ganhar fôlego em Genebra e Nova York. As cifras de ataques à água agregam um vetor de denúncia a resoluções debatidas no Conselho de Direitos Humanos e no Conselho de Segurança, que já acumulam pareceres sobre a devastação ambiental do conflito — da contaminação do solo ao fechamento de todas as estações de tratamento de esgoto. A leitura de que água virou “arma de guerra” não é mais retórica: é tese sustentada por dados, por agências e por especialistas independentes. O custo diplomático aumenta quando se lembra que parte da infraestrutura destruída foi financiada por europeus, somando-se a irritações com os ataques de colonos e a expansão de assentamentos ilegais, tema sensível para governos que se apresentam como defensores da ordem internacional baseada em regras.
Do ponto de vista editorial — e com o devido respeito às controvérsias jurídicas —, a cobertura pede um vocabulário que não apague o significado político do colapso hídrico em curso. A denúncia de apartheid/colonialismo do sionismo e de genocídio em Gaza faz parte do repertório de movimentos de direitos humanos e de analistas que enxergam na engenharia da escassez um mecanismo de dominação e expulsão. Esse enquadramento se alimenta de evidências cumulativas e se comunica com princípios como direitos da natureza e justiça climática: destruir redes de água e saneamento é também destruir a base ecológica de uma sociedade, com impactos de longo prazo que extrapolam a contabilidade de vítimas.
Nessa chave, termos como soberania nacional e democratização das comunicações ganham relevância prática. A primeira porque comunidades palestinas — urbanas e rurais — reivindicam o poder de decidir sobre seus próprios sistemas de água e sobre investimentos mínimos de resiliência, sem o alinhamento automático ao imperialismo nem vetos administrativos que travam perfurações e reparos. A segunda porque a mídia hegemônica muitas vezes reproduz o “fog of war” sem a devida contextualização, diluindo responsabilidades com expressões como “confronto” e “troca de acusações”. Aqui, Contrainformação é poder: mapear cada ataque, qual pedaço de infraestrutura foi atingido, quem investiga e com quais resultados. Trata-se de reorientar a notícia do espetáculo bélico para a infraestrutura da vida.
O debate também passa por economia política. A água é o fio que costura saúde, agricultura e trabalho; quando ela falta, explode a insegurança alimentar e colapsa a renda de pequenos produtores. Não por acaso, avaliações da ONU e de bancos multilaterais conectam a devastação hídrica à piora de indicadores ambientais e nutricionais — um ciclo vicioso onde esgoto não tratado contamina aquíferos, e redes quebradas exigem consertos que não chegam porque peças e técnicos não passam. Ao transformar a água em variável de guerra, amplia-se a zona de estado de exceção: o que deveria ser intocável em termos humanitários vira alvo legítimo pelo discurso militar, rebaixando o padrão de proteção a civis e corroendo a legalidade internacional.
Do lado israelense, há quem invoque argumentos de segurança — combate a grupos armados, uso dual de infraestrutura, contaminação deliberada por atores não estatais. O direito internacional prevê salvaguardas e responsabilidades para todos os lados, mas essas alegações não justificam a destruição sistemática de ativos civis nem a punição coletiva de populações inteiras. O debate sério exige transparência: investigações independentes, responsabilização por ataques contra alvos protegidos e garantia de reparação. Europeus que financiaram obras essenciais — de dutos a plantas de dessalinização — têm, ademais, razões próprias para exigir respostas, sob pena de normalizar a obsolescência programada de sua cooperação internacional em zonas de conflito.
Os números, embora frios, desenham a urgência. Mais de 250 ataques desde 2020; recordes globais de violência hídrica em 2024; e a escalada de ataques de colonos na Cisjordânia. As consequências são visíveis: em Gaza, crianças bebendo água salobra; na Cisjordânia, vilarejos inteiros dependendo de caminhões-pipa caros e intermitentes. Em ambos os casos, o preço recai sobre os pobres e sobre mulheres que caminham quilômetros para encher galões. Se a água é um direito humano — e é —, não pode ser moeda de guerra nem de humilhação. O básico do básico, beber e evacuar com segurança, precisa estar fora de mira.
A cobertura responsável deve, por fim, dar nome às coisas. O que se vê na Palestina é uma combinação de violência direta e cercamentos burocráticos que convertem o direito à água em privilégio instável. É nessa encruzilhada que soberania nacional, justiça climática e democratização das comunicações se encontram: reconstruir redes, proteger técnicos, exigir corredores humanitários de peças e combustível, e minutar cada ataque para que não se dissolva no ruído. Menos manchete sobre “choques” e “tensões”, mais luz sobre quem aperta a válvula que esvazia a vida.
Fontes consultadas
The Guardian – Israel attacked Palestinian water sources over 250 times in five years, data reveals.
Pacific Institute – Water Conflict Chronology (database).
Reuters – In the Israeli-occupied West Bank, Palestinian taps run dry.
UN OCHA – Humanitarian Situation Update | West Bank (danos a WASH e impactos sanitários).
World Bank/EU/ONU – Gaza Interim Damage Assessment (danos em água e esgoto).
UNICEF – Nine out of 10 Gazans unable to access safe drinking water.
Amnesty International – Israel’s decision to cut off electricity supply to Gaza desalination plant is cruel and unlawful.
CSIS – The Siege of Gaza’s Water.