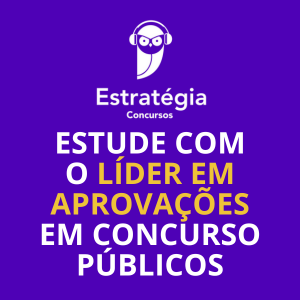Debate sobre equiparar facções criminosas brasileiras a grupos terroristas opõe endurecimento penal, soberania nacional e defesa de direitos em meio à pressão interna e externa
À medida que o Brasil se torna epicentro da disputa por narrativas de segurança pública, a proposta de equiparar facções criminosas a grupos terroristas volta ao centro do debate político. O avanço do chamado Projeto Antifacção, somado à pressão dos Estados Unidos para rotular organizações como PCC e Comando Vermelho como terroristas, expõe uma tensão de fundo: onde termina o combate ao crime organizado transnacional e começa um perigoso estado de exceção permanente?
No pano de fundo, está um país atravessado pela guerra às drogas, que há décadas se traduz em operações policiais letais em favelas e periferias, com saldo desproporcional de jovens negros mortos e comunidades inteiras sob fogo cruzado. Relatórios recentes indicam que mais de 80 grupos criminosos organizados atuam em território brasileiro, tendo o PCC e o Comando Vermelho como grandes polos, com presença em diversos estados, nas fronteiras e até em outros países da região.
O que muda com a equiparação a terrorismo
A discussão ganhou corpo com a tramitação do PL Antifacção, inicialmente apresentado com dispositivos que equiparavam facções ao crime de terrorismo. A proposta foi reformulada: o relator recuou da equiparação direta, mas o tema segue vivo no xadrez do Congresso, com setores da direita pressionando para reabrir o debate em novas emendas ou projetos paralelos.
Mesmo sem a equiparação, o texto já prevê um robusto endurecimento penal: penas entre 20 e 40 anos para lideranças e integrantes de facções, bloqueio imediato de bens, confisco de patrimônio e criação de um Banco Nacional de Organizações Criminosas para integrar dados biométricos, genéticos e financeiros. A mensagem política é clara: colocar o crime organizado no topo da agenda de Estado, com instrumentos de inteligência e cooperação federativa ampliados.
Mas a equiparação a terrorismo iria muito além desse pacote. Articulistas e juristas criticam a tentativa de usar uma lei concebida para punir ações de motivação política, ideológica ou religiosa — isto é, o terrorismo tal como definido na Lei 13.260/2016 — para enquadrar organizações cujo motor central é o lucro, o controle territorial e o domínio de mercados ilícitos. Ao descolar o conceito de terrorismo da motivação ideológica e focar apenas no “efeito” de medo generalizado, o Congresso abre uma brecha para banalizar o terrorismo e criar confusão jurídica duradoura.
Pressão externa, soberania e narrativa de “narcoterrorismo”
A disputa não é apenas doméstica. Em 2025, o governo brasileiro rejeitou formalmente um pedido do Departamento de Estado dos EUA para declarar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em reunião em Brasília, autoridades norte-americanas argumentaram que a classificação facilitaria sanções, bloqueio de ativos e perseguição a integrantes que atuam em território norte-americano; a resposta brasileira foi que, à luz da legislação em vigor, essas são organizações criminosas, não grupos terroristas.
Nesse embate, ressurge o vocabulário típico da cobertura de esquerda: a crítica ao imperialismo e a defesa da soberania nacional contra tentativas de “tutela” externa sobre a política de segurança. O receio é que a narrativa do “narcoterrorismo”, abraçada por sucessivas administrações dos EUA na região, sirva de justificativa para interferências indiretas e condicionamento de cooperação militar e financeira.
Analistas alertam que, ao deslocar o problema das facções da esfera da segurança pública interna para a do terrorismo global, o Brasil poderia transformar uma agenda de polícia e justiça em tema de geopolítica de alta tensão, com pressões diplomáticas e econômicas extras.
Entre a guerra às drogas e o “estado de exceção” nas periferias
Enquanto a elite política debate tipificações, a realidade nas bordas das grandes cidades é marcada por uma guerra cotidiana de baixa intensidade. Relatórios internacionais descrevem como PCC, Comando Vermelho e milícias dominam territórios, exploram comunidades com extorsão, controlam serviços e impõem “tribunais do crime” em áreas onde o Estado chega quase exclusivamente pela via policial e repressiva.
A resposta estatal, por sua vez, segue calcada em megaoperações policiais com altíssima letalidade, que frequentemente resultam em dezenas de mortos em poucas horas, escolas fechadas, comércio paralisado e moradores confinados em casa. Em operações recentes no Rio de Janeiro, a soma de vítimas chegou a ultrapassar a casa das cem pessoas em poucos dias, o que levou organizações de direitos humanos a falar abertamente em “licença para matar”.
É nesse cenário que ganha potência o enquadramento, caro à imprensa progressista, de que a guerra às drogas = genocídio da juventude negra — isto é, uma política de segurança que recai de forma desproporcional sobre jovens negros e pobres, transformando favelas em zonas de sacrifício em nome de uma promessa de ordem que nunca chega.
Ao classificar facções como terroristas, críticos temem que essas operações passem a ser legitimadas como parte de uma “guerra ao terror” doméstica, com ainda menos transparência e controle, consolidando um estado de exceção não declarado nas periferias urbanas.
O risco de abrir a porta errada
Especialistas em direito penal e constitucional chamam atenção para um efeito colateral pouco discutido: ao transformar facções em terroristas, o Brasil automaticamente aciona um conjunto de normas e compromissos internacionais voltados ao terrorismo, transferindo o eixo do enfrentamento do plano interno para o campo da segurança global.
Isso pode significar, por exemplo:
-
sobrecarga da Justiça Federal, responsável pelos crimes de terrorismo, com milhares de novos processos complexos;
-
ampliação de regimes processuais mais duros, com redução de garantias, ajudando a consolidar um ambiente de “justiça de exceção”;
-
maior margem para pressões externas sob o argumento de “combater o terrorismo transnacional”, inclusive com exigência de compartilhamento de dados sensíveis, informação de inteligência e alinhamento automático a listas e sanções estrangeiras.
Na prática, juristas apontam que a rotulação como terrorismo tende a produzir um sistema penal ainda mais rígido e seletivo, sem atacar os pilares econômicos das facções: cadeia de lavagem de dinheiro, infiltração em licitações, captura de agentes públicos e domínio de mercados ilícitos nas fronteiras e nas grandes cidades. Endurecer a lei virou sinônimo de “fazer algo”, mesmo quando esse algo não resolve o problema estrutural.
Segurança pública além do punitivismo
De outro lado, o governo federal tenta calibrar o discurso: reforça o compromisso com o combate ao crime organizado transnacional, assina cooperação com organismos como a INTERPOL e investe em uma nova força-tarefa contra redes criminosas na América Latina, ao mesmo tempo em que sinaliza resistência à equiparação automática de facções a terrorismo.
Para setores progressistas, o caminho passa por fortalecer a Lei de Organizações Criminosas, ampliar a capacidade investigativa e a inteligência financeira, além de enfrentar o nó da corrupção político-policial que alimenta milícias e facções. Nessa leitura, criar um “supercrime” de terrorismo aplicado a qualquer forma de crime violento seria mais um gesto simbólico do que uma solução efetiva.
Há, ainda, a crítica à mídia hegemônica, acusada de apostar em manchetes de “tolerância zero” e na estética do “modo guerra” como resposta automática a cada tragédia, enquanto minimiza o debate sobre democratização das comunicações e políticas sociais em territórios vulneráveis. Na contramão, veículos independentes defendem que contrainformação é poder, isto é, que disputar a narrativa sobre segurança é parte central para romper o ciclo de medo, desinformação e punitivismo.
Entre o medo e a Constituição
O Brasil tem razões de sobra para levar a sério a ameaça representada por facções criminosas e milícias: controle territorial, influência no sistema prisional, impacto em políticas ambientais na Amazônia e infiltração progressiva em estruturas estatais.
Mas a escolha de enquadrar esses grupos como terroristas pode ser um atalho perigoso: entrega à lógica do clamor punitivista um debate que exige precisão conceitual, responsabilidade institucional e compromisso com a Constituição. A pergunta que se impõe não é se o Estado deve ou não enfrentar as facções — isso é consenso —, mas como fazer isso sem converter a exceção em regra e sem transformar comunidades já vulneráveis em campo de testes de um modelo de “segurança nacional” voltado para dentro.
No fim, o que está em jogo é mais do que a redação de um artigo de lei. É a definição de que país o Brasil quer ser: um Estado que responde ao medo com mais camadas de exceção, ou uma democracia que encara o crime organizado com inteligência, cooperação internacional e políticas públicas que vão além da mira do fuzil.
Referências
Reuters – Brazil rejects US request to classify local gangs as terrorist organizations
Le Monde – Au Brésil, la pire opération de police de l’histoire fait plus de 120 morts
AP News – Brazil’s deadliest police raids fuel debate over crime and rights in Rio’s favelas
UK Government / Home Office – Country policy and information note: Organised criminal groups, Brazil, March 2025
INTERPOL – Combating organized crime: Brazil’s President Lula visit underscores INTERPOL’s central role
Campo Grande News – Projeto Antifacções: PCC não é mais equiparado a terrorismo
A Crítica – PL Antifacção: por que equiparar facções criminosas a grupos terroristas é um erro perigoso